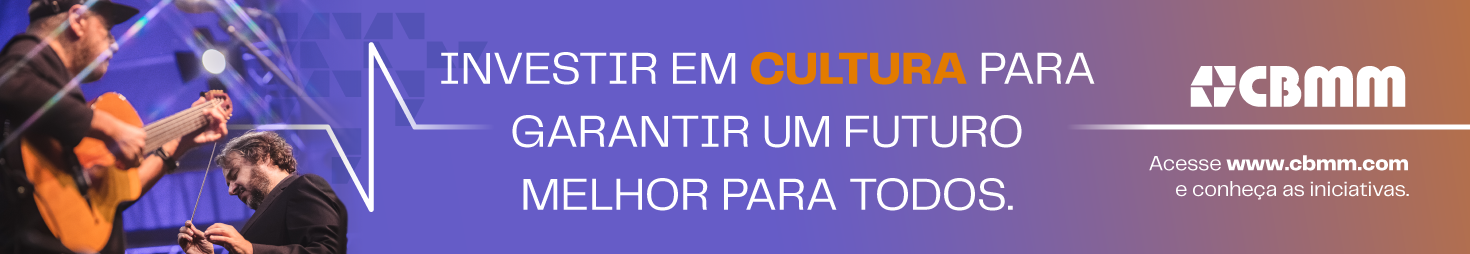Um aluno entra na sala e coloca não o caderno, mas uma arma sobre a mesa. Outro salta pela janela do segundo andar, no meio da aula, para fugir de um traficante. Uma garota entra correndo e chorando após ter conseguido se livrar de dois colegas que tentavam abusar dela no banheiro. O estresse causado por situações como essas já fizeram a professora Ane Sarinara, que ensina História na periferia de São Paulo, se afastar do trabalho e até pensar em desistir. Mas recentemente ela criou uma estratégia para envolver os alunos nas aulas: usar funk e rap para trazer um pouco do cotidiano difícil deles para a sala. “A escola está completamente fora da realidade deles, e educação, sem significado, não tem sentido nenhum. É aquela ideia: você finge que explica, eles fingem que entendem. São cidadãos que não gritam, que não berram, omissos, obedientes. Costumo dizer que não estudei para domesticar aluno. Querem que eu faça isso, mas eu não consigo”, conta ela à BBC Brasil. Para quem questiona a opção por esses ritmos musicais, a professora de 27 anos, há oito na profissão, tem a resposta na ponta da língua: “os alunos gostam disso, é o que eles escutam e é a linguagem que eles sabem”. Tudo começou com um estudante muito problemático, mas que era muito bom em algo: cantar funk. “Outros professores tratavam isso como indisciplina. Só que eu sou da periferia, escuto funk desde que me conheço por gente”, lembra. “Sugeri que ele escrevesse um funk sobre a matéria – foi a forma que encontrei para ele fazer parte da aula.” Quando o garoto apresentou o trabalho, ela percebeu que a tarefa havia “conquistado” não só a atenção dele, mas de toda a sala. “Um dos meninos se ofereceu para fazer o beatbox (reprodução de sons com a boca e o nariz), outro pegou a lata de lixo, outros batucavam na mesa, batiam palmas”, recorda. “Nisso, a diretora entrou para perguntar o que estava acontecendo. Para ela, parecia uma zona. Mas não era: a gente estava tendo aula.” Ane expandiu a experiência para além da música. Uma vez, por exemplo, dividiu os alunos em dois grupos e criou um tribunal: o primeiro representaria a polícia e o outro, o tráfico. “Na periferia, a polícia é muito mal vista porque chega sempre com violência. Mas a ideia era mostrar para eles que o tráfico, que é quem acaba fazendo as melhorias que eles precisam na região em que o Estado é ausente, não tem só coisas positivas.” Mas fugir do “padrão” também trouxe problemas: diretores e outros professores reclamavam de que Ane era “liberal demais”, e que seus alunos saíam achando que “podiam fazer tudo” nas outras aulas. “Eles diziam: ‘alguns pais estão reclamando, se eles forem na Diretoria de Ensino você vai ter que se retirar da escola’. E eu respondia: ‘não vou mudar, não estou fazendo nada de errado’.” Além de não ter desistido, ela hoje aplica seu método também na Fundação Casa (instituição que abriga menores de idade infratores em São Paulo). Onde, aliás, enfrenta os mesmos problemas causados pelo modelo convencional. “Quando entro na Fundação Casa, lembro das grades da minha escola. É igual. Não vejo diferença. A escola é uma prisão, a única diferença é que ela não tem
Um aluno entra na sala e coloca não o caderno, mas uma arma sobre a mesa. Outro salta pela janela do segundo andar, no meio da aula, para fugir de um traficante. Uma garota entra correndo e chorando após ter conseguido se livrar de dois colegas que tentavam abusar dela no banheiro. O estresse causado por situações como essas já fizeram a professora Ane Sarinara, que ensina História na periferia de São Paulo, se afastar do trabalho e até pensar em desistir. Mas recentemente ela criou uma estratégia para envolver os alunos nas aulas: usar funk e rap para trazer um pouco do cotidiano difícil deles para a sala. “A escola está completamente fora da realidade deles, e educação, sem significado, não tem sentido nenhum. É aquela ideia: você finge que explica, eles fingem que entendem. São cidadãos que não gritam, que não berram, omissos, obedientes. Costumo dizer que não estudei para domesticar aluno. Querem que eu faça isso, mas eu não consigo”, conta ela à BBC Brasil. Para quem questiona a opção por esses ritmos musicais, a professora de 27 anos, há oito na profissão, tem a resposta na ponta da língua: “os alunos gostam disso, é o que eles escutam e é a linguagem que eles sabem”. Tudo começou com um estudante muito problemático, mas que era muito bom em algo: cantar funk. “Outros professores tratavam isso como indisciplina. Só que eu sou da periferia, escuto funk desde que me conheço por gente”, lembra. “Sugeri que ele escrevesse um funk sobre a matéria – foi a forma que encontrei para ele fazer parte da aula.” Quando o garoto apresentou o trabalho, ela percebeu que a tarefa havia “conquistado” não só a atenção dele, mas de toda a sala. “Um dos meninos se ofereceu para fazer o beatbox (reprodução de sons com a boca e o nariz), outro pegou a lata de lixo, outros batucavam na mesa, batiam palmas”, recorda. “Nisso, a diretora entrou para perguntar o que estava acontecendo. Para ela, parecia uma zona. Mas não era: a gente estava tendo aula.” Ane expandiu a experiência para além da música. Uma vez, por exemplo, dividiu os alunos em dois grupos e criou um tribunal: o primeiro representaria a polícia e o outro, o tráfico. “Na periferia, a polícia é muito mal vista porque chega sempre com violência. Mas a ideia era mostrar para eles que o tráfico, que é quem acaba fazendo as melhorias que eles precisam na região em que o Estado é ausente, não tem só coisas positivas.” Mas fugir do “padrão” também trouxe problemas: diretores e outros professores reclamavam de que Ane era “liberal demais”, e que seus alunos saíam achando que “podiam fazer tudo” nas outras aulas. “Eles diziam: ‘alguns pais estão reclamando, se eles forem na Diretoria de Ensino você vai ter que se retirar da escola’. E eu respondia: ‘não vou mudar, não estou fazendo nada de errado’.” Além de não ter desistido, ela hoje aplica seu método também na Fundação Casa (instituição que abriga menores de idade infratores em São Paulo). Onde, aliás, enfrenta os mesmos problemas causados pelo modelo convencional. “Quando entro na Fundação Casa, lembro das grades da minha escola. É igual. Não vejo diferença. A escola é uma prisão, a única diferença é que ela não tem  seguranças. O resto é tudo igual. A mesma rotina, as mesmas grades, aquela lousa lá na frente, professor estressado.” Ela diz cogitar abandonar a sala de aula por medo de sair de lá “de camisa de força”. E, após citar números de professores que cometem suicídio, conclui: “Muitos colegas meus já tomam tarja preta pra conseguir dar aula. Não quero ficar desse jeito. Aí é que está a questão: eu não consigo me adaptar ao sistema. Mas aí todo mundo me diz: vai chegar uma hora que você vai ter que escolher entre ficar e se adequar ou sair. E está chegando essa hora já.”
seguranças. O resto é tudo igual. A mesma rotina, as mesmas grades, aquela lousa lá na frente, professor estressado.” Ela diz cogitar abandonar a sala de aula por medo de sair de lá “de camisa de força”. E, após citar números de professores que cometem suicídio, conclui: “Muitos colegas meus já tomam tarja preta pra conseguir dar aula. Não quero ficar desse jeito. Aí é que está a questão: eu não consigo me adaptar ao sistema. Mas aí todo mundo me diz: vai chegar uma hora que você vai ter que escolher entre ficar e se adequar ou sair. E está chegando essa hora já.”
Professora usa rap e funk para ensinar História: ‘Não estudei para domesticar aluno’
22//07/2016- 17:11